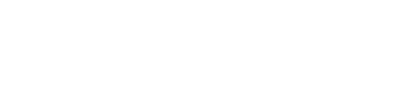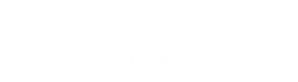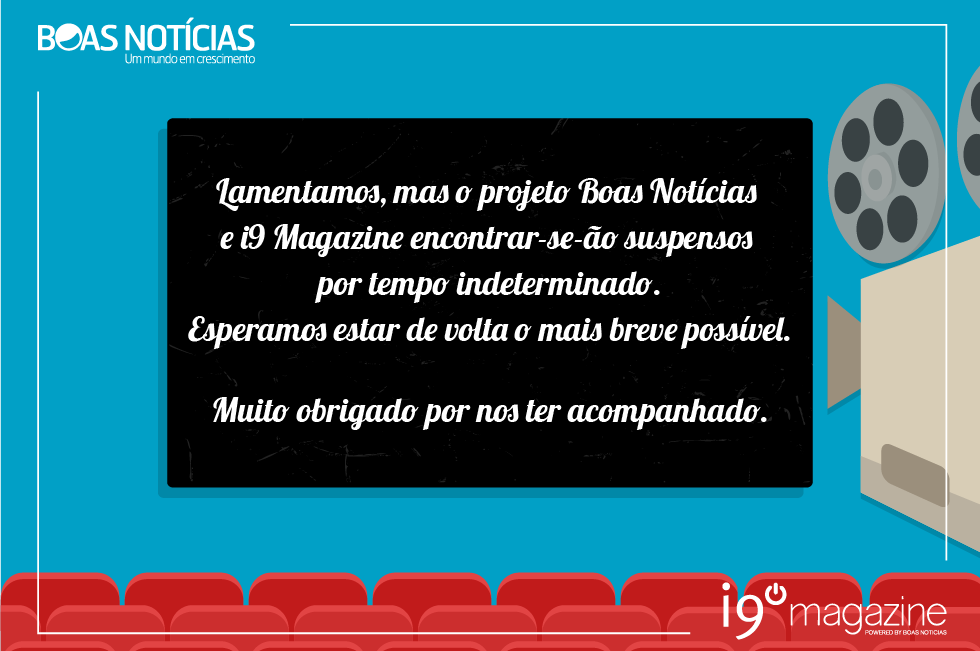Ficámos assim um pouco, ela sentada, com a cabeça no meu peito, agora a chorar abertamente, eu, de pé, a embalá-la. Ela sentia-se a cumprir uma espécie de maldição familiar que a levava, disse e – “tal como a minha mãe” – a afastar de si todas as pessoas de quem verdadeiramente gostava. Ela tinha o peito a rebentar sob o torno da sua irredutível solidão adolescente. Ela, nas suas próprias palavras, não ia conseguir ser feliz. Nunca. Não importa o que eu lhe disse, embora algumas das coisas lhe tivessem devolvido o sorriso e estancado o choro.

– Muitas vezes, as pessoas não se afastam umas das outras, ou umas às outras. Tiraram foi bilhetes para destinos diferentes. Têm de sair mais cedo, mudar de comboio ou de avião, partir para outras paragens.
Nunca a esquecerei. De certa forma, este encontro permitiu-me fazer as pazes comigo mesma. É que uma vez, há muitos anos, vi uma criança sentada nas escadas do elevador de Santa Justa, com o olhar trespassado por uma dor indizível. Um miúdo de uns oito, nove anos. Pedia esmola de mão estendida, como quem pede à Morte que o levasse. Por momentos fiquei ali, fulminada, a pensar o que poderia ou deveria fazer. Queria chegar junto dele e, simplesmente, passar-lhe o braço pelos ombros enquanto deitava o dinheiro no copinho de papel que ele empunhava na mão morena e suja, não fosse o seu proprietário, um desses romenos das redes de escravatura, estar a espreitar o negócio.
Não fiz nada absolutamente nada, e ainda hoje me dói a minha inércia. Não fiz nada porque não sabia como e o que fazer. De modo que lhe virei as costas, levando-o comigo e ainda hoje essa criança habita o meu coração. Esta menina, de quem não fugi, permitiu-me aliviar um pouco a mágoa da minha impotência. Quando a abracei, fi-lo simplesmente por ela, na mais completa indiferença do que me poderia acontecer.
[Manuela Gonzaga escreve de acordo com a antiga grafia]