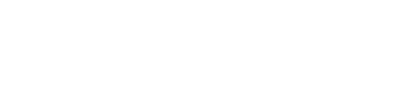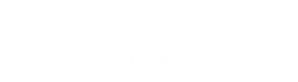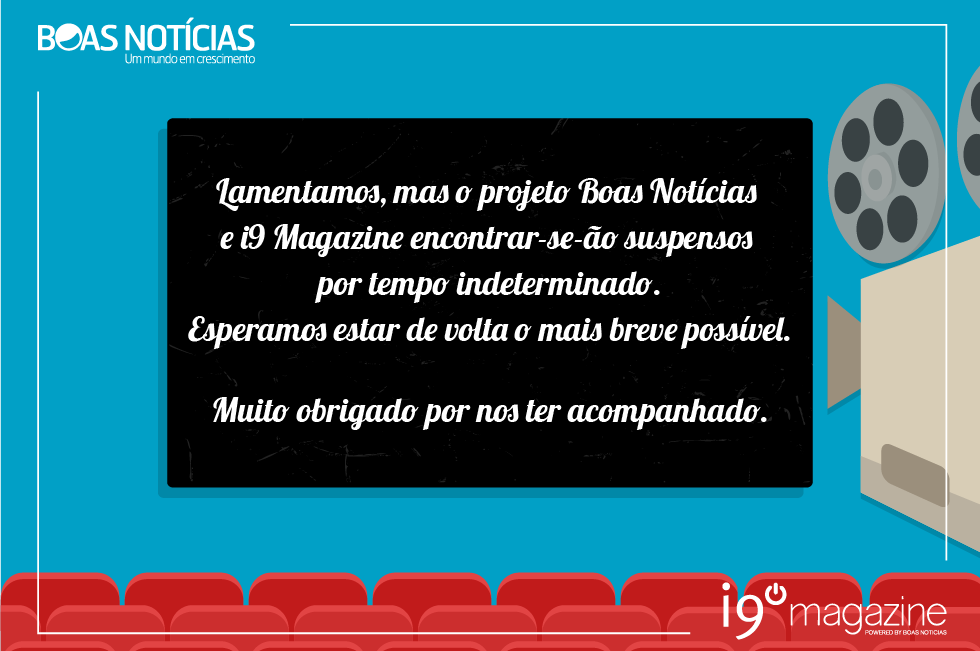Por Manuela Gonzaga
 Eram batatas-doces, esqueci-me delas, e quando reparei estavam a despontar. Já não serviam para comer, mas estavam tão vivas, que não consegui deitá-las no lixo. Tempos depois, coloquei-as num pequeno alguidar de plástico. Cresciam simplesmente sobre si próprias. Estavam cheias de raminhos, folhinhas, coisas de plantas. Borrifei-as e reagiram escandalosamente àquelas gotas de água, derramando-se por tentáculos eufóricos. Coloquei-as, finalmente, em evidência, sobre uma prateleira e espalhei um bocado de terra sobre elas, que já estavam a espreguiçar para todos os lados, procurando abraçar candeeiros e torneiras. “Isto está fora de controlo” – disse ele. – “Um dia entro em casa e estás estrangulada, diante do lava-loiças.”
Eram batatas-doces, esqueci-me delas, e quando reparei estavam a despontar. Já não serviam para comer, mas estavam tão vivas, que não consegui deitá-las no lixo. Tempos depois, coloquei-as num pequeno alguidar de plástico. Cresciam simplesmente sobre si próprias. Estavam cheias de raminhos, folhinhas, coisas de plantas. Borrifei-as e reagiram escandalosamente àquelas gotas de água, derramando-se por tentáculos eufóricos. Coloquei-as, finalmente, em evidência, sobre uma prateleira e espalhei um bocado de terra sobre elas, que já estavam a espreguiçar para todos os lados, procurando abraçar candeeiros e torneiras. “Isto está fora de controlo” – disse ele. – “Um dia entro em casa e estás estrangulada, diante do lava-loiças.”
Foi então que me lembrei da Coisa. Era uma dádiva da natureza, uma panaceia universal, tinha vindo de Jerusalém e só se obtinha por oferta de amigos sinceros. Como ela, a Blá, que ma trazia com instruções muito precisas. Eu tinha de meter a Coisa – a Blá chamava-lha a Alga – num recipiente, e alimentá-la com água com açúcar, todos os dias. Ao fim de nove, tinha de lhe fazer o parto. Ela procriava, sim. Esse pequeno rebento devia ser oferecido a uma grande amiga. Podia tentar dar a um amigo, mas os homens não são sensíveis a este tipo de presente que não é propriamente belo e ainda por cima requer trabalho de manutenção.
– E o que faço eu com isso?
– Continuas a alimentá-la. Ela não pode apanhar luz, tapa-a com um pano branco. É milagrosa. Por exemplo, se alguém se queimar, um pouco do líquido dela, cura a ferida num instante. É intensamente cicatrizante. Também se usa para cancros. Remissão de borbulhas e rugas. É uma planta da felicidade.
– Que tem filhos.
– Todos os noves dias. No meio dela, cresce um corpo redondo. Puxas delicadamente, separas da mãe, e ofereces a alguém de quem gostes muito.
A Coisa foi para debaixo do lava-loiça, num recipiente de barro. Ao fim de uns dias, a cozinha e o hall de entrada cheiravam permanentemente a vinagre. Em pouco tempo, esgotámos as amizades profundas a quem devíamos honrar com aquela oferenda, e passámos a despachar filhos da Coisa por colegas de trabalho, conhecidos e até vizinhos, enquanto ela crescia tanto que acabámos por enfiá-la na dispensa dentro de um grande alguidar de plástico, que ela ocupou num instante com o seu corpo gelatinoso, acastanhado e disforme.
Tornou-se um pesadelo. Se íamos de noite à cozinha, julgávamos ouvi-la a resfolegar e a grunhir enquanto crescia. Ia acabar por rastejar para fora do sítio onde estava, e com o paninho branco em cima, procurar-nos pela casa, para nos pedir satisfações pelos filhinhos que agora, despudoradamente, deitávamos na sanita, a cada nove dias. Chegámos à conclusão de que era preciso tomar medidas. Que raio, se alguém se queimasse tínhamos sempre a alternativa do hospital, que é para onde as pessoas normais se dirigem para receberem tratamentos normais e tomarem remédios normais.
Um buraco negro oculta como e quem executou o desígnio familiar. Poderá muito bem ter sido o André. O quarto dele ficava pegado à marquise da cozinha. Se calhar, ouvia muito mais o ronronar da Coisa do que nós. O cheiro a vinagre tornara-se insuportável.
[Manuela Gonzaga é escritora. Mestre em História pela Universidade Nova de Lisboa, publicou, entre outros, a biografia de António Variações, a de Maria Adelaide Coelho da Cunha, e uma coleção juvenil, “O Mundo de André”, com a chancela do Plano Nacional de Leitura que já vai no 3º titulo. Visite o blog de Manuela Gonzaga em http://www.gonzagamanuela.blogspot.com/]