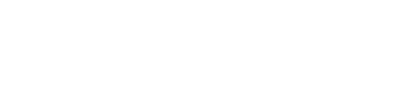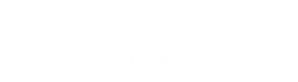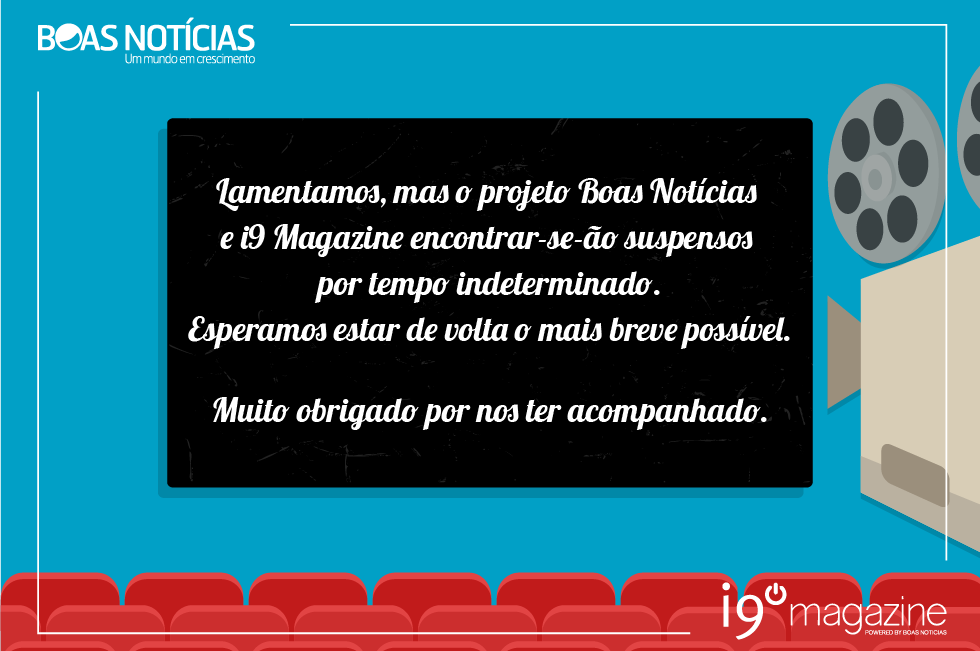Por Manuela Gonzaga
Era gigantesca , cheia de dentes branquíssimos, cascos reluzentes e cornos afiados. Esperneava em pleno ar, encontrando milagrosamente o caminho livre entre pinheiros, sobreiros, figueiras, sem esbarrar em nenhuma árvore, crescendo a cada milionésimo de segundo dentro da sua pele malhada, de um preto e branco luzidio de anúncio de chocolate. Era um monstro, em rota de colisão iminente com a minha paralisada pessoa, e eu não conseguia fazer absolutamente nada, porque muito simplesmente o que estava quase a acontecer não podia, de forma alguma, estar a acontecer.
, cheia de dentes branquíssimos, cascos reluzentes e cornos afiados. Esperneava em pleno ar, encontrando milagrosamente o caminho livre entre pinheiros, sobreiros, figueiras, sem esbarrar em nenhuma árvore, crescendo a cada milionésimo de segundo dentro da sua pele malhada, de um preto e branco luzidio de anúncio de chocolate. Era um monstro, em rota de colisão iminente com a minha paralisada pessoa, e eu não conseguia fazer absolutamente nada, porque muito simplesmente o que estava quase a acontecer não podia, de forma alguma, estar a acontecer.
Vacas não marram em pessoas. Vacas não atacam gente. Vacas não correm para cima da jovem de 26 anos que eu era então, imóvel a meio de um monte, perto da estrada entre Santiago do Cacém e Sines, com um saquinho de pano manchado de amoras ou figos, já não me lembro, pendurado ao ombro.
O meu corpo tremia de medo e de vontade de correr dali para fora, mas eu não conseguia mexer-me porque a minha cabeça repetia: «isto não é o que parece.»
A minha cabeça estava chipada com um texto da 4ª classe, ou da 3ª classe, dos tempos do Estado Novo. O texto, que ainda hoje reproduzo quase de cor, remetia-nos para o grande amor que a vaca tinha pelo ser humano, ao qual se dava por inteira.
Para começar, fornecendo-nos o seu leite, graças ao qual crescíamos fortes e saudáveis, e do qual se extraía a manteiga, o iogurte, as natas. Eu odiava leite e seus derivados, mas percebia a ideia. Depois, vinha a carne, que aquele animal de olhos meigos nos oferecia para guisar, estufar, grelhas, fritar. Da sua pele faziam-se sofás, cintos, carteiras, luvas, casacos. Dos ossos, botões. Nas embalagens de chocolate, ela lançava-nos silenciosos olhares de adoração. Aos 8 ou 9 anos, eu ficara assombrada por existir na natureza uma criatura – para além dos humanos santos e santas dos altares – capaz de tamanho altruísmo.
E foi praticamente em estado alternativo de consciência que gravei o texto nas minhas entranhas, transformando a sua mensagem em dogma. As vacas, simplesmente, adoram-nos.
Por isso, era uma grande injustiça acreditar que podia ser abalroada, logo magoada seriamente, por uma delas.
Segundos antes que o voo daquele esplêndido mamífero interceptasse o meu estupidificado ser, o voo do rapaz que estava comigo interceptou-me milagrosamente – é o termo –, lançando-me ao chão, a uns bons metros de distância do lugar por onde o animal passou, esperneando doidamente, para desaparecer monte abaixo rumo à estrada de alcatrão. Sempre aos saltos. Como se rebentasse de alegria.
Levantei-me a tremer, a cara, as mãos, a roupa cheia de folhas de pinheiro e de terra, mas sem uma beliscadura. Um homem passou por nós e perguntou:
– Viram a minha vaca?
Abanei a cabeça, sem conseguir articular uma palavra que fosse, e apontei para a estrada.
– É que ela é uma grande doida! – retorquiu ele, já de costas viradas, a correr de cajado no ar.
O rapaz que estava comigo olhou-me incrédulo:
– Podias ter morrido. Podias ter ficado muito magoada. O que aconteceu?
Eu estava envergonhada demais para dizer a verdade. Dias depois, contei o episódio aos meus colegas bancários. Um deles perguntou-me se eu sabia o que era um touro. Desses que vão para as touradas e tudo. Eu sabia, claro.
– E quem pensas tu que são as mães deles? Vaquinhas de presépio?
Rimo-nos todos muito.
Há episódios nas nossas vidas, que têm um travo epifânico.
[Manuela Gonzaga é escritora. Mestre em História pela Universidade Nova de Lisboa, publicou, entre outros, a biografia de António Variações, a de Maria Adelaide Coelho da Cunha, e uma coleção juvenil, “O Mundo de André”, com a chancela do Plano Nacional de Leitura que já vai no 3º titulo. Visite o blog de Manuela Gonzaga em http://www.gonzagamanuela.blogspot.com/]
Nota: Manuela Gonzaga escreve de acordo com a antiga grafia.