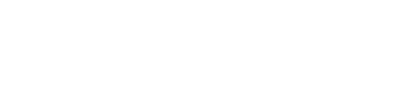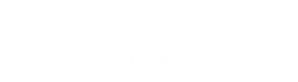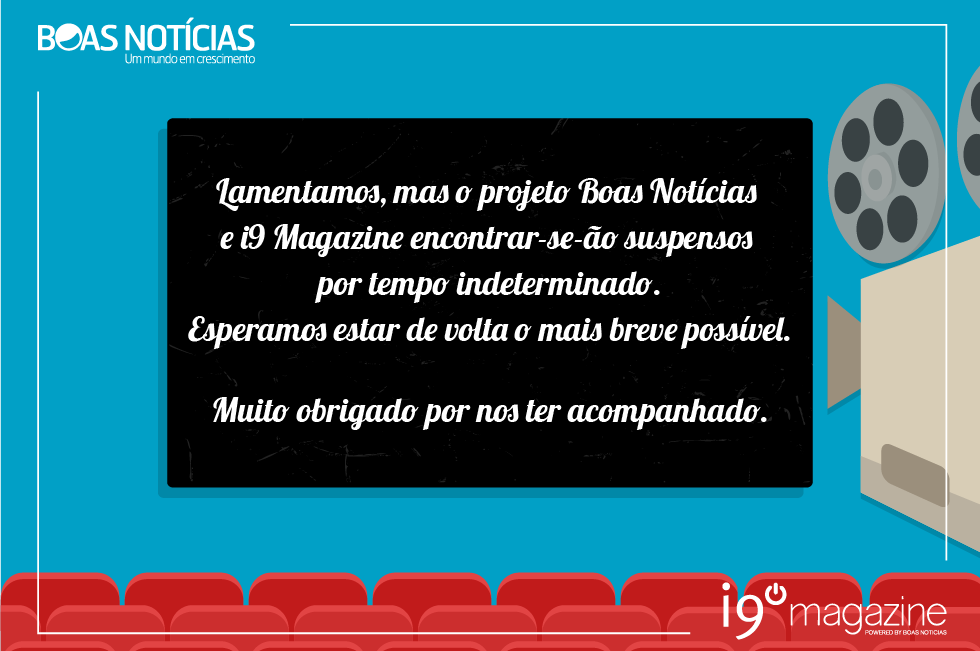Os anteriores trabalhos de João Nicolau – as curtas metragens “Rapace” [2006] e “Canção de Amor e Saúde” [2009], que esteve recentemente nos cinema juntamente com o documentário “Ruínas” [2009], de Manuel Mozos – foram distinguidos com vários prémios em Portugal e no estrangeiro.
Por Patrícia Maia
A tua biografia diz que estudaste antropologia… Como é que foste parar ao cinema?
Sim, tirei o curso de antropologia no ISCTE e depois fiz um mestrado em Inglaterra , em Manchester, em antropologia visual. Era um mestrado muito prático de introdução às linguagens fílmicas. No âmbito desse mestrado, o meu projeto final foi um filme que fiz em Cabo Verde sobre um músico [Mano Mendi, 1927-2008] da ilha de Santiago. Quando voltei a Portugal mostrei o filme em alguns festivais e foi assim que comecei a trabalhar em montagem, primeiro em documentários e depois em ficção.
Portanto o cinema não foi uma ideia planeada desde cedo…
Não, antes do mestrado nunca tinha pensado fazer filmes. Mas a verdade é que já no curso de antropologia, onde escrevíamos sobretudo ensaios, comecei a ficar cansado da linguagem ensaística. Mas não foi uma coisa premeditada. Depois, o facto de ter trabalhado em montagem com pessoas como Manuel Mozos, João César Monteiro, Margarida Gil, Miguel Gomes, entre outros que seria impossível enumerar, deu-me coragem para arriscar a realizar a minha primeira curta, o “Rapace”.

[Foto: cena de “Rapace”]
Nunca mais quiseste fazer documentário?
Quis… Quando voltei de Inglaterra propus dois documentários a duas produtoras mas não foram para a frente. Um é sobre a maneira como é vivida a imagem nas revistas cor de rosa e de sociedade. O outro, sobre as prisões, chegou a ter apoio mas não foi para a frente por questões de produção.
Escreves sempre os teus próprios guiões?
Sim, o das curtas escrevi sozinho e este [de “A Espada e a Rosa”] escrevi com a minha irmã, Mariana Ricardo, que também já escreveu argumentos para o Miguel Gomes e para o Manuel Mozos.
Terminaste agora de realizar a tua primeira longa metragem, ” A Espada e a Rosa”. É muito diferente fazer uma longa de uma curta?
Sim, bastante. Este é um filme muito longo, com muitos cenários, muitos atores, rodado em vários zonas do país.. Tudo isso exige uma adaptação diferente das curtas, onde eu trabalhava só com um ou dois atores por cena. Além disso, filmámos no mar o que nos obrigou a adaptarmo-nos a diferentes condições de navegação, por causa do sol, do ruído dos motores, etc.
Quanto tempo demorou a rodagem [filmagens]?
Sete semanas… Foi pouco tempo para o projeto mas foi o tempo que tivemos. Este filme foi feito com o subsídio das primeira obras, do ICA, e era o que se podia fazer com o dinheiro disponível.
Grande parte da ação de “A Espada e a Rosa” passa-se numa caravela. De que trata o teu novo filme?
O filme é passado nos dias de hoje mas grande parte decorre a bordo de uma caravela do século XV porque aborda, ainda que de uma maneira fantasiosa, a pirataria. É a história de um tipo que vive em Lisboa, despede-se de toda a gente, e depois embarca nesta caravela onde encontra pessoas que se dedicam à pirataria. Ele leva uma substância para bordo que conduz a uma traição que implica essa substância. A partir daí é um desenrolar de aventuras, com reféns, com mapas, para recuperar essa substância. No fundo é uma interpretação autobiográfica do princípio do universo [risos].
O Manuel Mesquita entra pela segunda vez num filme teu. Como escolhes os teus atores?
Sim, entrou no “Rapace” e agora na “Espada e a Rosa”, que escrevi já a pensar nele. Eu normalmente gosto de escrever para pessoas e espaços que já tenha na cabeça, mesmo que depois as coisas mudem. No “Rapace” por exemplo escrevi com uma determinada casa em mente e depois acabei por filmar noutra. Mas o facto de me concentrar num espaço ajudou-me a habitar o filme.
“Rapace”, “Canção de amor e saúde” e a “Espada e a Rosa”… Algum destes filmes te deu uma satisfação especial a realizar?
Todos me deram muito gozo em realizar. Fiquei bastante surpreendido no “Rapace” porque pensei que pudesse ser difícil a parte da rodagem, mas a verdade é que me diverti bastante. Se calhar esse foi o mais surpreendente para mim porque eu vinha do universo da montagem onde estava sozinho com o realizador em frente ao computador.

[Foto: cena de Canção de Amor e Saúde]
Qual é a parte mais importante na produção de um filme?
Antes da rodagem há duas partes muito importantes. Uma é a conceção e a escrita do guião. Outra é o trabalho gigantesco de produção que as pessoas não veem, como arranjar os sítios, tratar das licenças, ensaiar com os atores. Toda essa preparação começa meses antes da rodagem do filme. Mas em todos os momentos, até à fase final da mistura do som, tomas decisões importantes.
Assinaste o “Manifesto Pelo Cinema Português” que circula na internet?
Eu concordo com as posições que estão ali tomadas mas não assinei por dois motivos. Primeiro porque estava mal escrito e depois porque tinha uma parte em que fazia insinuações pouco claras e acho que um documento público não deve jogar esse jogo. Sobretudo tratando-se de um manifesto contra situações menos claras que se passam nos organismos que regem os subsídios do cinema.
O cinema português pode ou deve dar lucro?
Creio que cabe ao Estado apoiar a arte cinematográfica. Não se pode pensar unicamente no dinheiro, porque o dinheiro não é único lucro que advém da produção de um filme. Quando fazemos um filme, um quadro, uma música, há um benefício cultural e social que daí advém que não se pode medir pelo número de espetadores. Por exemplo, a “Juventude em Marcha” [2006], do Pedro Costa, esteve em competição em Cannes, teve um percurso impressionante no estrangeiro e cá terá tido apenas umas centenas de espetadores. Mas é um filme que vai continuar a ser visto daqui a 30 ou 40 anos.
Então será difícil fugir aos subsídios…
Sim, mas há também uma ideia distorcida que importa corrigir de que os subsídios dos filmes portugueses vêm dos contribuintes. Não é verdade, os subsídios advêm da publicidade. Importa também salientar que mesmo os filmes estrangeiros são feitos com apoios do Estado. Até o cinema independente norte-americano, onde existe uma forte indústria cinematográfica, é feito com apoios estatais. Em França são muito poucos os filmes que são feitos sem apoios estatais… o que há é mais apoios.
Em Portugal começam a surgir mais cursos de cinema, para além do conservatório. E, sobretudo em Lisboa, há novos espaços que exibem regularmente filmes independentes, como nas sessões Shortcutz, no Bicaense. Isso pode contribuir para fomentar o cinema português?
Sim, há novas formas de difusão, para além das salas de cinema, como é o caso dos festivais, e as novas tecnologias facilitam muito em termos de realização. É claro que, quanto mais gente houver a produzir e a fazer cinema mais possibilidade há de surgirem coisas boas.
Como descreves o cinema português atual?
Acho que é um milagre, em relação ao reduzido número de filmes que são realizados. Produzimos apenas 7 a 10 longas metragem por ano mas temos sempre um ou dois filmes interessantes, o que é um rácio surpreendente.
Vais muito ao cinema?
Agora não tanto porque tenho estado a trabalhar dia e noite em filmes e quando acabo não tenho muita vontade de ver mais imagens. Mas de qualquer forma não sou um cinéfilo, vou ao cinema frequentemente mas nunca fui um cinéfilo.