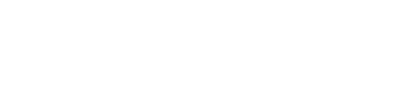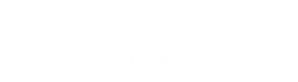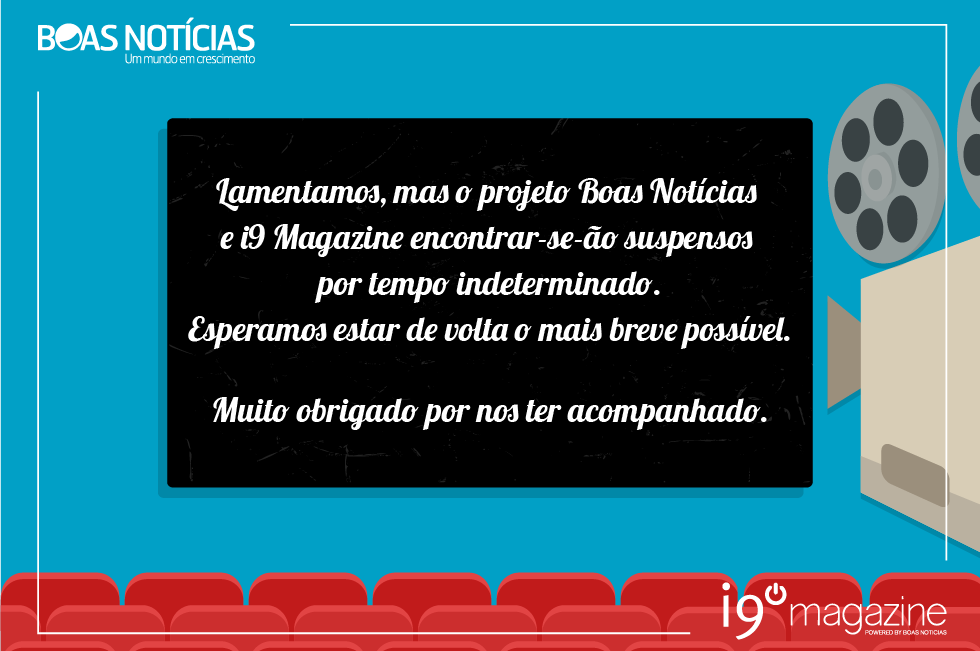por Catarina Ferreira
Maria Conceição, de 37 anos, dedica-se, há mais de uma década, a fazer a diferença. Obrigada a deixar de estudar quando estava, ainda, no 5.º ano de escolaridade, nunca permitiu que tal fosse uma barreira: lavou casas-de-banho, trabalhou em restaurantes, passou a ferro e até foi ‘babysitter’, mas foi em 2005, quando conseguiu um emprego como hospedeira de bordo na Emirates, a principal companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, que a sua vida deu “uma volta de 180 graus”.
“Começou tudo por acaso. Trabalhava como hospedeira e, a certa altura, foi marcada uma estadia de 24 horas em Dhaka, a capital do Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo. Foi muito chocante”, recorda Maria, que, atualmente, vive no Dubai, onde, em 2010, foi eleita “Mulher do Ano”.
Incapaz de ficar indiferente ao cenário de pobreza “enorme e total” com que se deparou – a realidade de um país onde “não havia comida, não havia apoios médicos” e, em pleno século XXI, as pessoas “viviam, na rua, como se fossem animais” – esta portuguesa soube, de imediato, que tinha de arregaçar as mangas.
Assim nasceu, pela mão de Maria Conceição, a Fundação Maria Cristina, cujo nome é uma homenagem àquela que foi a sua maior inspiração para decidir partilhar com os outros tudo o que tinha: Cristina, a mãe adotiva que a acolheu com apenas dois anos de idade.
“Ela era uma mulher viúva, com seis filhos, que ela própria tinha de alimentar sozinha e que trabalhava nas limpezas. Não conhecia a minha mãe biológica de lado nenhum, mas, quando a conheceu e viu que ela tinha necessidades, a Cristina sentiu que tinha muito para me dar. Adotou-me, tomou conta de mim e a minha vida mudou radicalmente”, confessa Maria ao Boas Notícias.

Cristina, a mulher que a adotou quando tinha apenas dois anos de idade, foi quem mais inspirou esta portuguesa a querer partilhar o que tinha com os outros © Fundação Maria Cristina
“Eu pensei: a minha mãe fez o que fez por mim, e eu tenho muito mais do que a Cristina tinha há 24 anos. Sei que, muitas vezes, as pessoas se sentem muito impotentes quando testemunham este tipo de realidades e sentem que não podem fazer nada, mas, como eu própria tinha aprendido uma grande lição de generosidade com a Cristina, decidi fazer pelos outros o que ela fez por mim”.
Desde que a Fundação Maria Cristina entrou, há 10 anos, nas favelas de Gawair, no Bangladesh, Maria já ajudou 100 famílias com 600 crianças. “Na altura, as crianças e as famílias viviam nas favelas, não tinham nada, nem sequer uma certidão de nascimento”, relembra Maria, que fez questão de se mudar, temporariamente, para as favelas para ganhar a confiança dos habitantes locais e, acima de tudo, para os entender.
“Como é que podia ajudar as pessoas que viviam nas favelas sem conseguir compreender a maneira como elas pensam? Foi uma experiência dura, em especial porque estava habituada a outras condições”, admite Maria, que, durante dois meses, viveu com uma das famílias numa “barraca sem porta ou fechadura, com tecto de madeira, ratos e baratas”, sem água e sem luz.
A transformação arrancou lentamente e com “os bens mais necessários”: nos primeiros seis meses, a portuguesa empenhou-se em levar-lhes comida, água e roupa e em garantir-lhes os tratamentos médicos básicos, mas acabou por se aperceber de que só isso não chegava.
“Tivemos de lhes dar tudo. Educação, uma casa, comida a tempo inteiro… tratamentos dentários, vacinas, dar-lhes água potável para poderem beber. Pagar tratamentos para doenças que não eram graves mas que, por não terem sido assistidas, progrediram e pioraram. Tivemos de lhes dar tudo, tudo do zero”.
“Ia lá todos os meses, mas, a certa altura, perguntei a mim própria: Maria, o que é que estás aqui fazer? Isto não é maneira de ajudar. Eles não precisam só que lhes satisfaça as necessidades imediatas. Precisam é de uma oportunidade de sair daqui”. Uma oportunidade que só poderia ser concretizada através de um caminho: a educação.
Nos anos que se seguiram, Maria resgatou famílias inteiras das favelas: informou-se sobre como abrir uma escola e, com a ajuda de voluntários, colocou centenas de crianças a aprender, oferecendo subsídios aos pais que aceitassem, também, frequentar formações para adultos para aprender a ler, a escrever e a falar inglês e empregando-os na própria fundação.

Maria foi a primeira mulher portuguesa a chegar ao topo do Evereste, que escalou em 2013. © Fundação Maria Cristina
Do Evereste aos sete continentes por uma causa
A crise financeira que, em 2013, se agravou drasticamente, veio, no entanto, deitar por terra todos os esforços feitos até então. “Os donativos começaram a cair e a cair e começámos a ter de apertar o cinto e a reduzir os apoios que dávamos. A certa altura já não tínhamos mais por onde cortar. Tivemos de fechar a fundação, de despedir os pais e de mandar todas as crianças de volta para as favelas”, recorda Maria, com tristeza.
Depois de um ano “muito, muito duro” e determinada a ressuscitar a organização, a portuguesa decidiu aventurar-se nos desafios desportivos: “uma forma eficaz de entrar na casa das pessoas”, de alertar consciências e de “chamar a atenção da imprensa”.
Foi aí que, com o objetivo de angariar fundos para a sua causa, surgiu o Evereste e, um ano mais tarde, as maratonas. Embora “nunca tivesse feito desporto na vida”, encontrou um treinador especializado em montanhismo e outro em resistência e, depois de um ano de treinos intensivos, subiu 8.448 quilómetros até ao topo do mundo.
Os dois meses de escalada foram “muito duros, principalmente a nível mental”, confidencia ao Boas Notícias. Apesar de estar “fisicamente bem preparada”, Maria precisou de vencer várias batalhas contra a falta de oxigénio, as alucinações e a desorientação e, depois de chegar ao cume, teve de encontrar coragem para voltar a descer.
“Chegar lá acima é chegar lá acima, mas depois é preciso voltar. A maior parte das pessoas chega lá acima já completamente exausta e 90% morre na descida. Sentia-me completamente exausta, como se tivesse um aspirador ligado dentro da boca a sugar-me toda a energia. Chorei muito, mas sabia que tinha de voltar, porque os meus 600 filhos precisavam de mim e eu não podia abandoná-los”, relembra, visivelmente emocionada.

O retorno financeiro da aventura não foi, no entanto, o que Maria ambicionava: o dinheiro angariado chegou, apenas, para apoiar 50 crianças. No ano seguinte, desafiada por um grupo de amigos, decidiu testar, uma vez mais, os seus limites e as sete maratonas que correu em sete dias nos sete continentes colocaram-na não só no Guinness, como nas bocas do mundo, permitindo que 200 meninos e meninas voltassem a estudar.
Este ano, e apostada “em manter a comunidade interessada para não perder o momento”, Maria Conceição vai participar no Ironman, um triatlo de longa distância com centenas de quilómetros de natação, maratona e ciclismo – um desafio ainda maior para alguém que não sabe nadar ou andar de bicicleta.
“Vai ser outro processo que vai exigir-me seis meses de preparação, mas, como sempre, vou atirar-me mesmo de corpo e alma e fazer todos os sacrifícios que têm de ser feitos: passar por uma dieta de atleta, levantar-me às quatro ou cinco da manhã para treinar, porque como vivo num país quente é impossível treinar mais tarde, não ter vida social…”, antevê a portuguesa.
Aventuras eternizadas em livro biográfico
Depois de uma década de experiência humanitária durante a qual aprendeu “que às vezes são aqueles que não têm nada os que dão mais”, Maria faz questão de frisar que “todos nós temos capacidade de fazer alguma coisa”. “E não temos de fazer no Bangladesh, ou em África. Façam aqui, ao pé da vossa casa, no vosso trabalho, onde de certeza alguém precisa de ajuda. Não virem as costas”, pede a líder da Fundação Maria Cristina.
Para dar a conhecer a sua história, Maria lançou, na sexta-feira, a biografia “Uma Mulher no Topo do Mundo”, editada pela Bertrand. “Quero que ler a minha história incentive as pessoas a seguirem os seus próprios sonhos e a nunca pararem de acreditar que é possível”, explica ao Boas Notícias.

Biografia “Uma Mulher No Topo do Mundo” quer incentivar as pessoas a seguirem os seus sonhos e a tentarem fazer a diferença © Boas Notícias
A longo-prazo, esta portuguesa ambiciona continuar a corrida que começou há 10 anos, uma corrida que “só terminará quando a última criança chegar à Universidade e puder ter um trabalho” e quando a comunidade puder ser autossuficiente.
Hoje, esse dia está mais perto. No próximo ano, o primeiro grupo de jovens a quem Maria ofereceu educação vai ingressar em universidades do Dubai com todas as despesas pagas. Entretanto, muitos pais, alguns com mais de 50 anos, conseguiram, finalmente, a sua independência: aprenderam a falar inglês, trabalham e até fazem, eles próprios, trabalho humanitário.
Quanto aos mais novos, que só agora dão os primeiros passos no seu percurso escolar, ganharam algo que nunca teriam: sonhos. Querem ser advogados para defender as mulheres que são vítimas de violência, presidentes para mudar o que está mal no Bangladesh ou médicos para ajudar quem precisa de cuidados de saúde. E até já há quem queira suceder a Maria na chefia da fundação.
“Sinto-me muito orgulhosa. Eu fui para lá para os ajudar a sair da pobreza, fiz coisas que nunca me tinham passado pela cabeça – tal como uma mãe – e foram eles que transformaram a minha vida. Fui para dar, mas foram eles que me deram mais”.
“Vi-os passar de lagartas a borboletas, crescer, aprender a andar e a falar. São como meus filhos. Eles tornaram-se um compromisso para a vida inteira e é por isso que continuarei a fazer a mesma coisa, diariamente, até acabar a minha missão”, promete a portuguesa.