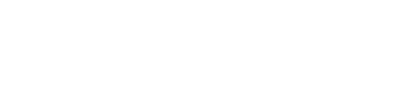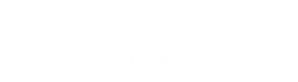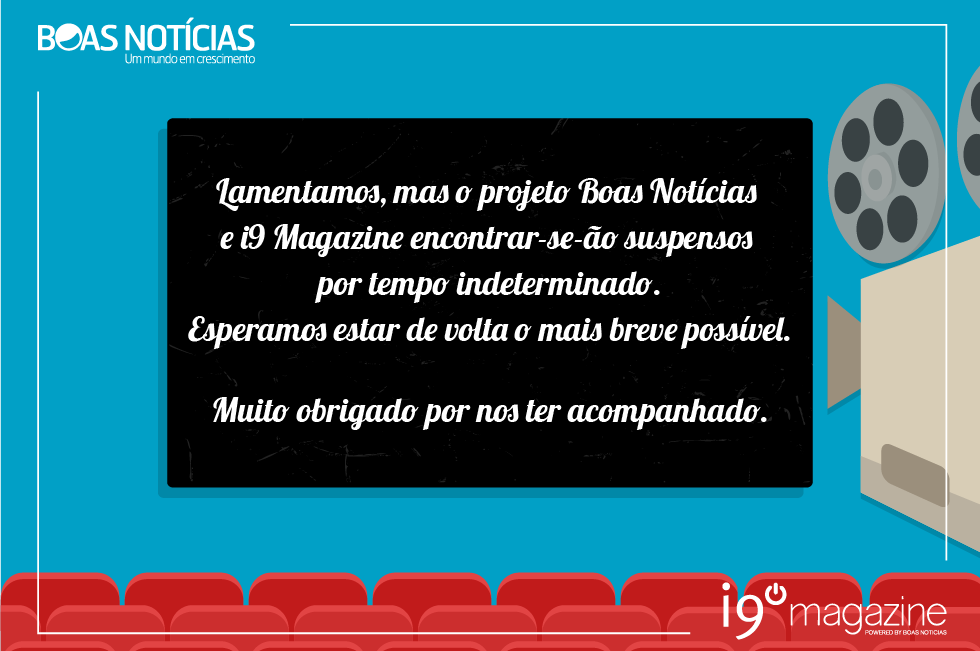Ilustrador, cartunista, performer de arte pública e desenhador em tempo real. O território de António Jorge Gonçalves é, como diz o próprio, “a narração por imagens”. O seu projeto “Subway Life”, recentemente editado em livro (Assírio e Alvim) é isso mesmo: uma narrativa da vida quotidiana em 10 cidades do mundo, a partir dos desenhos das pessoas que se cruzaram com o autor nos metropolitanos.
Como surgiu o projeto “Subway Life”?
O projeto surge quando eu estava a viver em Londres. Tinha ido para lá estudar, mudar um bocado de vida, dar uma volta no meu percurso artístico. E uma das coisas que me tinha apercebido é que nós nos concentramos muito sobre determinadas coisas quando olhamos – ou seja, nós olhamos para aquilo que nos é familiar. De tudo aquilo e de todas as pessoas para as quais podemos olhar, olhamos para um número muito reduzido; somos muito seletivos. E eu interessava-me por criar mecanismos, jogos, que me fizessem olhar para todas as outras pessoas e coisas para as quais, noutras circunstancias, não iria olhar . Tudo nasceu de um exercício assim: cada vez que apanhava o metro em Londres, desenhava a pessoa que estivesse sentada à minha frente. De certa maneira era a pessoa que me escolhia e não eu.
O que o cativou nessas pessoas que desenhou?
Devo confessar que no início era maior o desafio de conseguir desenhar as pessoas com o comboio a tremer, com a inibição por estar a enfrentar olhos nos olhos alguém que não conhecia e o não saber quando é que a pessoa saía… não saber quanto tempo tinha para desenhar. A partir do momento em que comecei a habituar-me um pouco a isso, o meu desafio era essencialmente conseguir, de facto, trazer aquela pessoa para o papel naquele espaço de tempo muito curto. Quanto mais viajava, menos olhava para os desenhos e mais olhava para as pessoas, porque no fundo esse era o segredo; desenhar é mais um acto de olhar do que rabiscar, na realidade. Portanto, por estranho que isto pareça, apreciei ou refleti mais sobre essas pessoas depois de ter os desenhos concluídos e não enquanto os fazia.
Quantos desenhos foram conseguidos, no total?
No total, cerca de três mil. Fiz cerca de 300 desenhos por cidade – nunca os contei um a um, mas a média é essa.
E no livro, quantos podemos encontrar?
No livro temos mais de 500. Num mundo ideal, teria incluido todos, mas esse seria um livro demasiado caro para alguém o comprar.
A sua rota [Londres, Lisboa, Atenas, Berlim, Estocolmo, Moscovo, Tóquio, Nova Iorque, São Paulo, Cairo] foi definida com que critérios?
Londres foi onde eu comecei, ainda não pensava que este projecto se iria concretizar. Lisboa foi escolhida porque entretanto voltei para casa e continuei a fazer os desenhos. Só a partir daí é que decidi que queria dar continuidade ao exercício e pedi uma lista de todos os metros do mundo à Associação Internacional de Metropolitanos. Olhei para o mapa e tentei perceber quais seriam as cidades que ficassem mais ou menos distantes umas das outras, nos cinco continentes, que me pudessem dar, num conjunto de dez locais, uma amostragem interessante. Escolhi também cidades onde nunca tinha estado, porque achava que era importante ter essa surpresa e não ir para lá com uma ideia pré-concebida acerca de como eram as pessoas.
Há alguma peripécia em particular que recorde? As pessoas desenhadas reagiam sempre bem?
Na maior parte das vezes, as pessoas não reagiam ou, pelo menos, não tornavam visível a sua reação. Acho que a regra no metropolitano, tal como dentro de um elevador ou num sítio fechado, é fingir que não se está a passar nada. Pode estar a acontecer a coisa mais terrível ali ao lado, mas é como se não acontecesse nada. Foi assim em mais de 90% dos casos. Depois, houve um pouco de tudo: houve quem não gostasse, houve quem saísse furiosamente do seu lugar, houve quem pedisse para ser retratado… Uma história engraçada aconteceu em Nova Iorque, onde um rapaz me abordou assim que entrou no metro e pediu-me: “Mostra-me! Mostra-me o desenho que fizeste de mim ontem!” Olhei para ele e respondi-lhe que não o tinha desenhado, mas ele insistiu e até chegámos a folhear o meu caderno. De facto, eu não o tinha desenhado. É estranhíssimo como é que o rapaz achou que eu o tinha feito, uma vez que quando desenho alguém é muito óbvio para quem estou a olhar.
Participa também em performances de desenho em tempo real. Haverá a possibilidade de transformar este projeto numa coisa desse tipo?
Não, são coisas muito diferentes. Aqui, o que é do mesmo registo – e, nesse sentido, este projecto foi uma charneira no meu percurso – é que esta foi a primeira vez em que fui desenhar deliberadamente fora do estúdio, num sítio onde estava vulnerável aos olhares das outras pessoas e a um feedback, um contacto imediato com elas. A vida de estúdio é muito solitária e daí só sai aquilo que está completamente apurado. Foi justamente depois, ou ainda enquanto desenvolvia o “Subway Life”, que comecei a fazer as minhas performances de desenho em tempo real, porque acho que foi esta convivência do meu trabalho com o exterior que me deixou à vontade – ou, aliás, me deu vontade – de ir fazer as performances, que são atividades opostas ao trabalho de estúdio. São coisas que acontecem no momento, onde as pessoas estão a ver o desenho a surgir da mesma maneira que eu. Acho que foi o “Subway Life” que me trouxe para a rua.
Como é que a reação do público afeta essas performances ao vivo?
Afeta de muitíssimas maneiras porque qualquer ator, músico, performer, que faça qualquer coisa ao vivo, num palco, te diz que o público sente-se sempre. Sente-se no silêncio, na concentração, nos risos, nos comentários, mas sente-se mesmo para lá daquilo que é explicável. De facto, sinto que quando estou a fazer esses desenhos ao vivo – até porque muitos dos espetáculos passam-se em regime de improvisação ou de composição espontânea -, eu próprio me pergunto de onde surgem as minhas criações naquele momento. Acredito que, às vezes, venham de um certo imaginário coletivo ao qual eu também vou beber.
Débora Cambé